Defender o Xingu
- Milena Issler

- 11 de jun. de 2023
- 21 min de leitura
Atualizado: 8 de jan.
Sair de São Paulo e percorrer 1.800 km até o Xingu pode parecer fácil, mas foi um dos mais desafiadores caminhos que eu já percorri com a minha Defender. Vou te contar tudo.
Milena Issler. @hein.gata
Julho 2023

Estou exausta, são 7h45 da noite e tomando banho no escuro pois o banheiro não tem luz. O chão está alagado com a água do chuveiro pois não tem box. Termino de enxaguar meu cabelo e escuto meu nome aos berros do lado de fora:
- MILENA!!!! MILENA!!!! CADÊ VOCÊ?!
Alguém espreitando por trás da porta me pede com voz de assustado:
- O cacique tá muito mal, piorou muito. É pra você ir correndo agora pro Polo, levar combustível pra um carro levar ele pra Querência. Putz! Gelei! O que eu faço agora? Saio correndo pelada? Não! Ainda não cheguei nesse nível, penso eu. Calma, respira. Vou ver o que tá rolando primeiro. Ouvi várias informações e nada fazia muito sentido, concluí que pra pegar o diesel eu precisava de ajuda pois não tinha a chave do local onde guardavam o combustível. Não achei a pessoa, então vou sem ele, levo a médica na minha Defender e vou em direção ao Polo Leonardo, base principal no território indígena do Xingu.
Saio na maior velocidade, a Defender pulando em tudo que é buraco, a coitada da médica do meu lado também saiu correndo do banho, nós duas de cabelo molhado enchendo de pó tudo de novo. Apesar da escuridão a luz do farol faz sombra nos buracos profundos e fica mais fácil de enxergar. Desvio mais rápido. São 10 km, faço em 9 minutos. Chego na entrada do posto de saúde e já vejo o cacique esperando em pé, tranquilo. Batendo papo com os amigos.
- Uai?! Que aconteceu? O cacique não tava morrendo?! - Não! Ele tá ótimo. O pagé veio aqui, fez a "pagelança" e já tirou o feitiço. Não vai precisar mais ir pra Querência, ele não quer pegar 6 horas dessa estrada de noite então ele vai pra casa dormir. É isso.
Sorrio. Por dentro tô xingando de raiva. Porque mesmo eu saí correndo? Ah é! Vim pra trazer a médica… mas também não precisava mais porque alguém já tinha trazido o pajé. Nem vou discutir, melhor ir embora. Meu carro agora está cheio, um amigo indígena ao meu lado explicando porque a medicina do homem branco não funciona nesse caso de feitiçaria. A explicação é longa, mas se resume assim: alguém fez um feitiço pro cacique que causou um enfarte. Tem outras aldeias querendo prejudicar ele. O pajé já resolveu, tirou o feitiço e agora vai ficar tudo bem. Não adianta medicina de homem branco contra isso. Nessa noite os médicos fizeram plantão no acampamento, prontos pra socorrer o cacique se fosse o caso. O cacique por sua vez dormiu tranquilo e logo cedo um avião veio buscá-lo e o deixou no hospital em Querência. Foi feito um cateterismo. Era infarto mesmo, não feitiçaria.
Esse foi o último dia de trabalho no Xingu. Nada muito diferente dos dias anteriores. Tudo começou 20 dias antes. Estou indo em trabalho voluntário por uma ONG de médicos, ofereci meu carro e sou motorista nesta ação que visa levar atendimento médico, oftalmológico e odontológicos para os povos indígenas do Alto Xingu. Meu trabalho? Levar por estrada, junto com mais dois carros, todos os equipamentos médicos e suprimentos para alimentar um equipe de 60 pessoas por 20 dias. Também sou “pau pra toda obra”, vou ajudar em tudo mais que for necessário, lavar louça, limpar, levar e buscar pessoas. Saímos carregados de São Paulo em direção a Querência, no Mato Grosso. Foram no total 2 mil quilômetros passando por Prata, Itumbiara, Barra do Garças, Querência e finalmente o Parque Indígena do Xingu. Esses três dias de deslocamento foram de tráfego intenso de caminhões, acidentes, obras nas estradas. Após tantos dias de secura, calor forte e uma paisagem monótona e triste de plantações de milho, soja e cana de açúcar, foi um tremendo alívio chegar no Xingu.

Na minha frente um paredão, uma massa de floresta densa se ergue, como um muro de proteção. Nosso comboio de 3 carros totalmente carregados com equipamentos e comida, serpenteia por dentro dessa trilha que agora é mais fechada e cheia de vida. Borboletas, pássaros e muito verde. Os raios de sol atravessam a copa das árvores e criam faixas de luz misteriosas ressaltadas pela poeira que levantamos. Sombra e ar fresco entram pelas janelas, agora abertas. Ar-condicionado desligado.

Acima: Saindo de São Paulo percorremos 1.800 km até Querência, passando por Prata (MG), Itumbiara (GO) e Barra do Garças (GO). Estradas boas só mesmo no Estado de São Pulo, dali em diante é mais buraco que asfalto.

Acima: de Querência até o Xingu são aproximadamente 200 km partindo de Querência mas tem uma travessia de balsa que pode demorar até 2 horas para os carros. Saindo de Canarana são 365 km tudo por terra. Na ida fomos por Querência e a volta foi Canarana. Defender carregada em São Paulo.
A paisagem monótona e triste do desmatamento e domínio do agronegócio em contraste com a floresta quando entramos no Xingu.
Mais alguns quilômetros a frente, solo arenoso e muita poeira. Buracos, valas, areia fofa. Anda, anda, anda, anda, anda…… não tem horizonte, só mata. Vejo a traseira do outro carro na minha frente. De repente…. aquela trilha fechada e estreia rapidamente se abre, fica ampla. Muito ampla. Na verdade, redonda como se entrássemos de carro dentro de um estádio de futebol. Ao redor, do meu lado, um maloca. Essa estrutura gigante coberta de palha seca. É humano isso? Parece uma construção alienígena.

A primeira vez que você na aldeia e tem essa visão é algo de arrepiar. Você se sente, literalmente, entrando em outro planeta.Vamos direto na maloca maior cumprimentar e nos apresentar ao cacique. Eu fiquei responsável pela logística no trecho de estrada e no resto do tempo sou “pau pra toda obra”. Resumo minha humilde participação: XingUber. Tínhamos que chegar um dia antes dos médicos e preparar a chegada deles que viriam de ônibus desde de Querência. Um grupo animado e bem humorado de 40 pessoas, vindos de diversas partes do Brasil, entre médicos formados e alguns estudantes. Além desse, outro grupo com 20 médicos indígenas também estava nos acompanhando para dar suporte e intermediar os atendimentos principalmente no que diz respeito a tradução. Isso porque só no Alto Xingu são 16 aldeias, apesar de falarem um idioma muito parecido, baseado na língua “karib altoxinguanas”.
Existem diferenças de dialetos que faz com que aldeias diferentes não se comuniquem entre si, e isso é proposital, é uma maneira de garantirem sua segurança.
Toda vez que descemos do carro as crianças correm na nossa direção. A família do cacique nos espera na porta. Após as formalidades nos apressamos em seguir em frente pois ainda temos alguns quilômetros por percorrer e o primeiro grande desafio: a balsa. Temos 3 carros para atravessar o Rio Xingu no porto Kalapalo. O rio está seco e muito baixo. Levantamos um drone para ver mais longe e vimos a balsa chegando, longe, navegando por canais mais estreitos e vindo em nossa direção. Que bom! Estão vindo! Sem celular e sem nenhum meio de comunicação possível chegamos na hora marcada. Sabíamos que se não estivessemos ali na hora marcada os Kalapalos, responsáveis pela balsa, não iam nos esperar. Daí sim teríamos um grande problema.
Admito que demorei pra entender o que era aquilo que eles chamam de balsa. Está com a rampa amassada e bem torta, mas funciona até que bem. Engato a reduzida, miro o pneu com atenção e subo tranquilamente. Carregada para a primeira travessia com meu carro, a Ranger da nossa equipe, mais um carrinho e muita gente em volta, o peso fez com a balsa encalhasse logo no começo da travessia. Pra resolver dois pequenos barcos começam a empurrar pelas laterais e 3 ou 4 indígenas, guerreiros fortes com músculos bem definidos, descem na água e começam a empurrar. No braço mesmo, com água pela cintura. Agora vejo o quão razo está.
As águas rasas do Rio Xingu obrigam os indígenas a empurrar a descer e empurrar a balsa.
Desembarquei primeiro do outro lado. Passamos por uma segunda aldeia chamada Yaulapiti. Mais uns 20 minutos afrente finalmente chegamos na primeira parada, o famoso Polo Leonardo. É alí que estão as bases da Funai (Fundação Nacional do Índio), Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), Disei (Distrito Sanitário Especial Indígena), Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e os bombeiros. Algumas poucas construções ao redor e a famosa casa dos irmão Vilas Boas. Seguimos em frente, mais 10 km de buracos e poeira, chegamos no nosso destino final, a aldeia Kamayurá. Essa foi nossa casa no Xingu por 18 dias, nossa acampamento ficou alí atrás da aldeia, de frente para a lagoa aonde tomávamos banho e lavamos roupas todos os dias. A infra-estrutura de um alojamento para redes, uma cozinha e alguns poucos banheiros estavam a nossa disposição.

Imagem acima: em amarelo o Polo Leonardo, nossa base de atendimentos. Em verde as aldeias que atendemos e a Kamayura onde acampamos. O Parque Indígena do Xingu é território de 16 povos e abrange uma área de 2.825.470 hectares, a população é de 5.500 pessoas e 77 aldeias. (Fonte: Instituto Socioambiental)
O primeiro dia foi de montar acampamento, descansar e se ambientar. Nosso primeiro contato é com as crianças, sempre alegres, curiosas e ousadas. Sem vergonha e de uma inocência encantadora. Não tem como não gostar. Todas estão sem roupa, com o corpo pintado, pulando de alegria para nos receber.
Na aldeia Kamayurá tínhamos uma ampla área para camping embaixo das árvores de pequi. Uma cozinha e refeitório, todo pintado com grafismos indígenas, estava a nossa disposição. Depois de 4 dias de viagem, acordando as 5 ou 6 da manhã e dirigindo até 820 km no dia anterior, debaixo de um sol de até 40 graus, finalmente tive a chance de tirar um cochilo após o almoço. Me fechei na minha barraca por causa dos mosquitos. Perdi a noção do tempo mas acordei com algumas várias mãozinhas de crianças me cutucando através da tela. Não faço idéia o que elas falavam. Virei pro lado e dormi de novo. Sinto agora alguém cutucando minha bunda. Mas agora a mão é maior. Quando eu vejo são três mulheres olhando curiosas pra mim e perguntando: — Você tá dormindo? Respondi falando alto: — Tô dormindo! Virei pro lado e dormi mais um pouco.
Descarregar e montar todos os equipamentos para atendimento odontológico. O famoso CadCam, última geração a disposição dos indígenas.
Os médicos chegaram
O grupo dos médicos chegou, vieram de Querência de ônibus e barcos pequenos para atravessar o rio. Após as reuniões e devidas apresentações no dia seguinte já começaram os atendimentos. Os dias se seguiram intercalando atendimentos no Polo Leonardo, que recebia indígenas vindos de aldeias mais distantes, e vez ou outra nós nos deslocávamos levando médicos e oftalmologistas para outras aldeias, como foi o caso das aldeias Waura, Aweti, Kalapalo e a própria Kamayurá onde estávamos acampados.
A chegada de barco do grupo de 40 médicos, entre as especialidades estavam dentistas, clínicos gerais, pneumologistas, oftalmologistas, ginecologistas, pediatras, fisioterapeutas e psicologa. Estudantes também eram voluntários.
Um dormitório de redes para acomodar os indígenas que vem de aldeias afastadas buscando atendimento. O Polo Leonardo é onde ficou a base de atendimentos.
Os Kalapalos tem fama de bravos. E são mesmo. Dessa vez a briga foi por óculos. Inconformados com a avaliação médica que dizia que não precisavam de óculos alguns deles se irritavam, batendo no peito e partindo pra cima dos oftalmos arremessavam as armações longe e exigiam óculos de qualquer maneira. — Como assim não vai me dar óculos? Quero óculos agora!!! — gritavam. Foi o caos, foi tenso, exaustivo. Por fim ganharam óculos de plástico e sem grau, caso contrário ia dar treta.
O trabalho é voluntário. A dedicação é expontânea. A gratidão é consequência.
Acima: a chegada dos médicos que vieram de avião, ônibus e barco. O Polo Leonardo. Atendimento odontológico e oftalmológicos.
XingUber
Entra gente, sai gente. Entra médico, entra índigena, criança, tartaruga, peixe. Carrega celular, lanterna e bateria do notebook. Acorda as 5 da manhã, o carro não liga, faz carinho nele. Respira, espera, ligou!!! Abastece no muque, a mangueira tá curta, vamos pegar outra, não tem, vai essa mesmo. Demora. Calibra pneu do meu carro, da ONG e de mais 5 caminhonetes, um carro e um caminhão. Reboca o outro que quebrou lá na ponte. Troca lâmpada. Opa! Tem galinha em baixo dela, tira antes que vire filézinho grelhado! Acende a luz aí, tá escuro. Limpa o vidro. De novo? É que tem um grilo olhando pra gente. Alguém desce pra me orientar? Tem que atravessar ponte.
Vai deixar esse carro aqui né moça? * *escutei isso desde o primeiro minuto que subi na balsa e até o último segundo antes de ir embora.
Acima: todos dia era lotação completa, crianças, indígenas ou médicos. As vezes tinha alguém pra rebocar, sempre abastecendo com a ajuda dos amigos e calibrar os pneus, do meu carro e o dos outros também. O grafismo pintado nas paredes. Pra andar no Xingu pinte-se como as guerreiras. As galinhas morando em baixo da Defender.
Arte indígena
Os Wauras são famosos pelas belíssimas cerâmicas. Após os atendimentos as peças já estavam todas em exibição no chão. Uma loucura! Duas palavras agora são as mais importantes: “moitará”, que quer dizer troca. É um escambo aonde você oferece qualquer coisa, mas as miçangas são as preferidas, e eles escolhem algo para te dar em troca. Nem sempre dá pra escolher, mas vale negociar. O artesanato é rico em cores, formas e além de bonito são funcionais. Algumas peças que aparentemente são apenas decorativas também emitem sons como chocalhos. Os colares e pulseiras são feitos com minúsculas miçangas, tudo feito à mão.
Você tem fome de quê?
E pra quem quiser saber o que a gente comia lá, já te falo agora, mas basicamente é qualquer coisa com tapioca. Afinal tapioca é o prato no Xingu. Dobra-se um pedaço grande e dentro se coloca o que quiser. Lá eles chamam de beiju.
A tarefa de plantar a mandioca é dos homens, que derrubam, queimam e limpam as roças. Mas são as mulheres que colhem, carregam e ralam a mandioca. Depois de seca no sol é misturada com água e vira uma massa que é espremida com uma esteira, isso tira a parte venenosa da mandioca. Por fim vai ao fogo para fazer o biju. As bolachas enormes de tapioca estavam todos os dias na nossa mesa. Guerreiras são as mulheres que produzem a farinha de mandioca, base da alimentação nas aldeias. Tanto homens quanto mulheres cozinham o peixe, mas a manipulação da mandioca é inteiramente feminina. É preciso muita força pra alimentar tantas bocas. Eu admito, foi difícil foi engolir tapioca seca com cuscuz seco e margarina no café da manhã, não faz meu gosto. Almoço e janta era especial, levamos uma pessoa responsável pela pesca e caça. Isso mesmo, caça. Não tem açougue no Xingu, tem que caçar. Armados com arpão, rede e um arma de fogo, tínhamos um caçador na nossa equipe que nos serviu jacaré, peixes, veado e porco do mato. Banquetes.
O strognoff de jacaré batizei de “strogogator” ou “jacanoff”. Very gourmet.
Café da manhã tinha tapioca e cuscuz. Peixes e carne de caça eram nossa principal fonte de proteína.
O jacaré é caçado de noite, usando um lanterna seu olhos brilham. olhos juntos, jacaré filhote. Olhos separado, jacaré grande. Um tiro na cabeça e já era. Os indígenas não comem jacaré, pra eles é sagrado. Qualquer outra coisa que se mova pode comer, inclusive tartaruga. Por falar nisso, quando fui buscar uns “parentes” (designação pra qualquer pessoas da família de um indígena, tipo o nosso “brother”, mano, etc) no porto, o cara me coloca dois sacos enormes no porta malas. Eu fui ajudar e ele avisou: cuidado que morde. Pulei pra trás. Daí sim ví os bicos das tartarugas tentando morder. É triste pois eles enchem elas de porrada pra ficarem atordoadas durante o transporte e depois jogam no fogo pra cozinharem dentro do casco, ainda viva.
Tirando o pequi, fruta abundante na região, senti falta de outras frutas. Poucas árvores frutíferas estão plantadas. Algumas bananeiras, mamão e cajú. O pequi ele fazem uma gosma e bebem. Achei bem estranho, uma ajuda nessa parte de cultivar alimentos seria muito bem vinda.
A criança picada pela cobra
O dia a dia era de atendimentos, hora no Polo Leonardo e hora presencial nas aldeias. Um dia, chegando na nosso acampamento, vejo uma mulher indígena correndo. Alguma coisa tinha acontecido. Logo me chamaram para levar uma criança até o Polo, era urgente pois havia sido picada por uma cobra. Corro de carro até a maloca da família e uma amiga voluntária está saindo com a menina no colo. É a Assuí, uma das crianças que está sempre com a gente. Elas está os prantos e tremendo de dor. O risquinho de corte no dedão foi onde a cobra picou, foi de raspão. A mãe com bebê de colo nos acompanha até o posto de saúde, tentamos acalmar a Assuí durante o caminho. Após os exames e medicação decidem levá-la para Canarana (6h horas do Xingu) para ser atendida no hospital. O soro antiofídico só pode ser administrado em hospitais, caso contrário pode levar ao óbito, por isso os postos de saúde como o do Polo não tem. Volto com a mãe pra aldeia para pegar roupa, mantimentos e uma pessoa que vai de acompanhante. Não vejo mais a Assuí por 4 dias. Mais tarde fico sabendo que ela está bem, aparentemente a cobra não era venenosa. Que alívio!

Assuí sendo atendida no posto de saúde.
As “crionças”
Nessa altura meu nome já ecoava sem parar da boca das crianças cada vez que eu chegava na aldeia. Meu carro virou o parque de diversões! No primeiro dia que fiz um tour pela aldeia e elas ficaram eufóricas, e de tão felizes, ao final do passeio cantaram parabéns pra você batendo palminhas! Provavelmente a música mais feliz que elas acharam que eu conhecia. Perdi a conta de quantas crianças entraram nele. Todos os dias eu enchia a lotação dava voltas com elas pela aldeia.
Dentro do carro, além dos sorrisos e tchauzinhos para todos pela janela ensinei elas a cantar: “ O jipe do padre fez um furo no pneu… o jipe do padre fez um furo no pneu…. o jipe do padre fez um furo no pneu, colamos com chiclete”. Pra que?! Todos os dias repetia a música e rodava pela aldeia. Não sei quem se divertiu mais. Só que até hoje a música não me sai da cabeça.
A crianças são a maior alegria do Xingu. Elas são puras, mas não são ingênuas. Espertinhas sabem pedir, provocar, fuxicar e pegar qualquer coisa que esteja ao alcance das mãos cheias de dedinhos lindinhos. Tem hora que tem que pedir pra parar. Independente disso, são uns amores. Olhares e abraços carinhosos são distribuídos a todo instante. E se você achou que ia tomar banho tranquilamente, engano seu! Não teve um que não entrou na lagoa e não arremessou elas na água ou virou trampolim humano….
O parto
E como o Xingu não é para os fracos, logo após o incidente com a cobra, no dia seguinte uma mensagem chega no meu celular: uma mulher indígena está dando a luz na aldeia Awara. Pronto, rally em alta velocidade para chegar em tempo lá. São 40 minutos numa estradinha de areião esburacada. Uma amiga me acompanha, as médicas já estavam lá quando chegamos por volta das 16h. Ficamos sabendo que o trabalho de parto começou logo cedo pela manhã, solicitaram a presença das médicas da ONG pois havia suspeita de ser um parto pélvico (quando o bebê se encontra sentado dentro da barriga), ou seja de risco. Um carro da Sesai então levou as médicas até lá que examinaram a mulher grávida, estava tudo bem, o bebê estava na posição correta. Mandaram as médicas de volta para o Polo. Horas depois, chamaram elas de novo pois o bebê não queria nascer.
A cena dentro da maloca era a seguinte, somente mulheres dentro da maloca, com exceção de um enfermeiro da Sesai que é responsável por auxiliar nos partos das indígenas. A maloca é escura e muito abafada, eu estou em pé, abanando e iluminando com meu celular. Mais dois celulares de outras mulheres e a lanterna na cabeça das médicas são a única fonte de luz que temos. Deitada em uma rede está a indígena grávida, sem roupa e com os seios amostra. Em volta dela todas as mulheres parentes dela, mãe, avó, tia, prima… sei lá quem era quem. Uma delas segura a mão da mulher grávida e ao mesmo tempo uma criança, em pé mama em seu peito. Ao lado, sentada num banquinho a pajé, virada de costas para as médicas e de cara amarrada, parecia brava.
Ao re-examinar a grávida a bolsa dela se rompeu o que criou um clima tenso, as mulheres indígenas acusaram as médicas de estarem interferindo demais no parto. Saímos todas da maloca. Esse entra e sai se repetiu algumas vezes, precisávamos ganhar a confiança delas pra ficar lá dentro, afinal nunca precisaram de médicas pra fazer parto, bebês sempre nasceram sem ajuda nenhuma por lá. O problema agora é o que os batimentos cardíacos do bebê estavam muito acelerados. O plano então foi dar um soro que serviria de placebo para acalmar a grávida, com ela mais relaxada tentariam fazer ela se agachar no chão pra parir o bebê. Na posição deitada que ela estava nunca ia dar certo, e ela se recusava em se mexer pois sentia dor.
Administrado o soro e agora muito mais calma e relaxada ela saiu da rede e se sentou em cima de cobertores que colocamos no chão. Ao redor tinha absolutamente de tudo empilhado pelos cantos, poeira e pó por todo lado e até uma barata passando por perto. Conforme o bebê ia descendo as indígenas amarravam uma cinta de cordas na barriga dela pra forçar-lo cada vez mais para baixo. A pedido da médica, eu começo a contar os intervalos entre as contrações. Percebo que a coisa começa a se desenrolar e o bebê vai nascer a qualquer momento. Uma tradutora, parente da grávida, nos ajuda a falar com ela. Finalmente a cabeça aparece, o bebê está nascendo com o cordão umbilical enrolado. Rapidamente a médica tira o cordão e livra a saída. O bebê está engasgado com o líquido aminiótico. A pediatra então começa rapidamente a fazer manobras para ele vomitar. Tá difícil. A médica pede calma e relaxa a amiga pediatra dizendo: “ — tenta de novo de vai dar certo. Vamos usar a seringa que é o que temos aqui”. Improvisam um tipo de sugador com a seringa e desengasgam o bebê. Funcionou! O bebê chora. Ufa! Que alivio!
Tudo bem com a mãe. As próprias indígenas passam a cuidar dela e do cordão umbilical. Finalmente, por volta das 19hs, saímos da maloca quente e escura, o cheiro forte do parto ainda pairava no ar.
Finalmente desligo a luz do meu celular pois do lado de fora é a luz da lua cheia que nos ilumina por todo caminho da volta.
Que dia inesquecível! Que honra tive de presenciar esse momento e que coragem dessas médicas que se arriscarem tanto naquele momento, afinal não faço idéia do que os indígenas fariam se a criança morresse na mão de médicas brancas. Enfim, vida longa ao menino que nasceu.
Celebrando
Tivemos algumas celebrações com direito a demonstrações de luta e dança na nossa aldeia. Os Kamayurás nos receberam como convidados de honra. No centro da aldeia fica “A casa dos homens”. É lá que eles se reunem diariamente para lutar, descansar e conversar. É tipo a sala de reuniões. As pinturas corporais são diferentes para os homens e mulheres. A cor preta é de jenipapo e o vermelho do urucum. Os homens foram ao centro e, além das danças típicas, teve a luta de Huka-huka, algo tipo o MMA (no meu humilde entendimento).
No desafio homem branco x indígena o nosso guerreiro branco, foi o grande vencedor na primeira luta, mas perdeu a segunda. Ainda bem, deu empate!
Chegou a vez das mulheres dançarem. Elas entram na arena usando apenas enormes e pesados colares de miçangas, com a pele toda pintada. Como guerreiras entonam músicas aonde chamam a atenção dos homens, se exibem e partem pra cima deles fazendo cócegas.
Como uma brincadeira de criança, alguns homens reagem jogando uma pasta de mandioca nelas. Só de sacanagem, elas cantam fazendo piada com a genitálias masculinas. Divertidíssimo.
As mulheres e a dança. Elas entram na arena usando apenas enormes e pesados colares de miçangas, com a pele toda pintada. Como guerreiras entonam músicas aonde chamam a atenção dos homens e brincam partindo pra cima deles fazendo cócegas.
Acima: a casa dos homens, no centro da aldeia. As mulheres se reunem para dançar, um misto de brincadeira e provocação com os homens. A luta de Huka-huka.
A arranhadura
A arranhadura, pode parecer estranho para nós, mas os indígenas tem esse costume de arranhar a pele dos braços e pernas, usando um pedaço de cabaça com dentes de peixe (arranhadeira)causando assim inflamação e um sangramento superficial. Esse ritual a vida toda desde criança e serve para engrossar a pele. Se você acha estranho esse costume, tenho certeza eles também acham estranho colocar silicone no peito ou injetar botox na cara.
Arranhadura, é costume dos indígenas e faz a pele ficar mais grossa e consequentemente mais resistente a picada de insetos. Além de ser uma demonstração de resistência e força. (imagem cedida por amigos). A arranhadura da pele é feita desde que eles são crianças e durante a vida adulta também. O machucado que após cicatrizar tantas vezes cria uma camada de pele mais dura e resistente.
Reclusão
Pode parecer bem estranho para nós, mas a reclusão é uma tradição muito comum para os indígenas e praticado até os dias de hoje com algumas variações entre as aldeias e diferentes etnias. O ritual acontece como um rito de passagem, transformando a criança em adulto. Durante a reclusão, tanto a menina quanto o menino ficam dentro da maloca, totalmente isolados dos outros, no escuro e só podem sair uma vez ao dia para tomar banho. A reclusão das meninas começa no dia da primeira menstruação e pode se estender de um até três anos. Para os meninos acontece entre os 14 e 17, e acaba quando ele estiver pronto para ser um guerreiro. Tanto os menino quanto as meninas podem ter a reclusão estendida por até 5 anos conforme maior são suas responsabilidades. Durante a reclusão as meninas vão aprender artesanato, tecer rede e a preparar os alimentos. Nesse período ela não corta os cabelos, a franja chega a cobrir os olhos, e só é cortada aos poucos ao sair. Elas saem brancas e com extrema sensibilidade a luz do sol devido aos anos de isolamento dentro da maloca escura. Já os meninos receberam treinamento para luta, pesca, plantio da mandioca e confecção de flechas, por isso saem mais ao ar-livre e tem mais exposição ao som.
A cerimônia de apresentação dos jovens adultos para a sociedade é feita durante o Kuarup (festa dos mortos), cerimônia de liberta a alma dos que morreram, feita uma ano após o sepultamento, mas que ao mesmo tempo celebra a vida dos que estão sendo apresentados para aldeia. Nesse momento de libertação da reclusão, é que a menina mulher recebe um novo nome e é então considerada adulta e pronta para o casamento.
Acabou
O dia de partida foi um pouco tenso. Após 18 dias acampados é a hora de distribuir os últimos presentes, fazer o moitará e deixar por lá tudo o que era diariamente e insistentemente pedido pelos indígenas. Principalmente as crianças que queriam doces, salgados e bolachas. Chegaram a invadir algumas barracas pra comer os salgadinhos guardados. Nossas toalhas de banho, cangas de praia, chinelos, ítens de higiene pessoal e camping era cobiçados diariamente. Teve um momento que tivemos que pedir um tempo pra poder ter privacidade e relaxar. Um minuto sequer de descuido e suas coisa haviam sumido na mão de uma das crianças. Um dia voltei pra trocar de shorts pois troquei o que eu estava usando num moitará por um colar.
Não fazem por maldade, mas sim porque não tem acesso a nada devido as distâncias e a falta de transporte, ítens básicos como um absorvente valem ouro na aldeia. Nossa última noite, arrumando as malas, uma paredão de indígenas nos cercou, como sombras gigantes espreitando acima de nós, procuravam bisbilhotar o que tínhamos nas malas que pudessem lhes interessar. Foi um pouco bizarro aquilo. No final dei quase tudo que levei. Me deixa triste ver como a cultura do homem branco já domina as aldeias. Caixas de som em alguma malocas tocavam em volume altíssimo as 9 da manhã o pior do sertanejo, axé e pagode. Bonés, chuteiras, camisas de futebol, lancheira do Mickey para crianças. Até uma chapinha de cabelo ví uma mulher indígena passando naquele cabelo maravilhoso e naturalmente liso. Geradores de energia movidos a combustível as vezes ficavam ligados até meia noite, um barulho insuportável. Não ví indígenas lendo livros, só zapeando no celular e assistindo vídeos no YouTube. Não ví indígenas escutando Mozart ou Marisa Monte, mas agora vejo jovens indígenas fazendo uma espécie de Hip Hop com pose de funckeiro no Feed do meu Instragam. Sim, eles tem Instagram.
O lixo na aldeia é problema gritante e parece não incomodar ninguém se não eu que sempre que posso vou catando lixo pelo caminho. Desde escovas de dente, panelas, pedaços de bonecas e pacotes de salgadinhos espalhados por todo lado. O lixo não é nosso, já estava lá quando chegamos. Não tem uma composteira nem nada para reciclagem. Toda noite os indígenas fazem fogueiras enormes e queimam o lixo. Não acho que seja a solução. Além disso, ao lado da minha barraca havia um buraco no chão destinado ao lixo da nossa cozinha com restos de carne e comida, os urubus e as galinhas faziam a festa e a gente não conseguia dormir. Um dia fiz uma limpeza geral nessa área.
Fico feliz que pelo menos as tradições, rituais, língua e artesanato ainda estão presentes e muito fortes em todas aldeias, os caciques garantem isso e o orgulho deles é visível, mas o contraste é gritante. Só o pior do lixo mercadológico da nossa cultura chega aos indígenas.
A volta por Canarana
A estrada é um labirinto que corta as fazendas de milho, impossível achar a saída. Tínhamos um amigo indígena para nos guiar, caso contrário seria impossível achar o caminho. Nem adianta reclamar dos buracos, já fazem parte do relevo. A escolha de voltar por Canarana foi para evitar atravessar balsa que poderia demorar até 2 horas, afinal tinha um ônibus e mais 40 pessoas dentro na nossa frente. Além disso Canarana está mais pra baixo de Querência, em direção e portanto mais perto pra quem vai para São Paulo. Decidimos arriscar. Não posso dizer que valeu a pena, pois coincidentemente encontramos nosso amigos indígenas que foram com o ônibus de Querência para Canarana e chegaram na mesma hora que a gente. Mas foi bom pra conhecer o caminho e cruzar com essa cobra maravilhosa pela estrada.
Acima: Caninana, cobra não peçonhenta. O caminho empoeirado e de novo dominado pelo agronegócio.
Conclusão
Volto do Xingu com uma nova visão sobre o Brasil. Ficou muito claro que a cultura brasileira não é essa que passa na televisão ou que se lê nos livros de vestibular. Não conhecemos a cultura brasileira, nem o brasileiro de verdade, por este são indígenas. A primeira impressão que tive ao entrar na primeira aldeia permanece, cheguei em outro planeta. E o que ficou muito claro é que nós somos os invasores e destruidores. Não falamos o Tupi, falamos o português a língua dos invasores. O pouco que resta de floresta intacta é resultado da proteção feita pelos indígenas. O resto, sinto muito admitir, é uma devastação irreversível. Não vejo solução nenhuma diante dos 2 mil quilometros rodados de agronegócio que domina cada centímetro e cada cidade do caminho. O melhor que podemos fazer é preservar e tentar ao máximo dar saúde e condições melhores de vida para esses povos. É o mínimo.
Esse é o Brasil mais Brasil que existe, demorei 44 anos pra conhece-lo. Esse é o povo originário. O invasor sou eu. Somos nós que falamos a língua do conquistador.
Recomendo aos aventureiro de plantão, os que gostam de um off-road e tem sensibilidade para lidar com pessoas, participe das ações de ONGs. Seja com doação ou trabalho voluntário. Veículos 4x4 com espaço para carga e motoristas bem dispostos são sempre muito bem vindos.
Curtiu esse texto? Se quiser também pode deixar sua mensagem, assim vou saber o que você pensa sobre o que eu escrevi. Pode compartilhar e divulgar, nada melhor do que espalhar boas mensagens e conhecimento! E não deixe de me seguir no Instagram @hein.gata





























































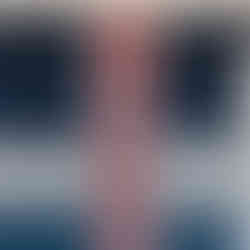




















































































Comentários